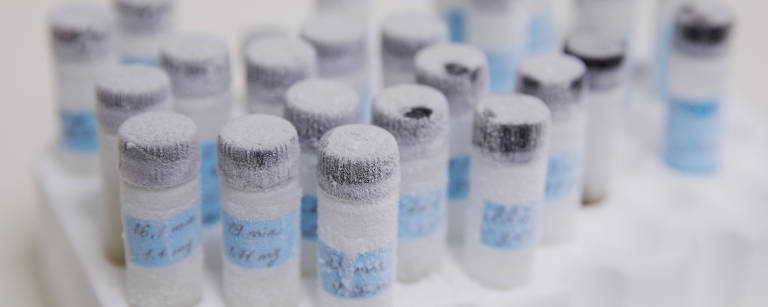Elton Morán colhe folhas de coca em sua plantação próxima ao povoado de Huancané, na região dos Yungas - Lalo de Almeida/Folhapress
Na parede, o emblema da folha de coca sobre o machado e o facão –eco do símbolo comunista da foice e do martelo– é o cartão de visitas da federação dos sindicatos de cocaleiros de Chimoré, no Chapare. No piso de cimento, milhares de folhas secam antes do ensaque. Até ali, o processo está dentro da lei, mas o destino final dificilmente será o consumo tradicional. A probabilidade maior é que vire pó.
O cenário sugere descontrole, mas os números revelam o contrário. Há mais de uma década, quando um cocaleiro do Chapare chegou à presidência, a Bolívia adota uma estratégia nunca admitida oficialmente, mas que resultou na mais bem-sucedida experiência mundial de controle da produção de cocaína: a legalização do plantio destinado ao narcotráfico.
A política foi comandada até há pouco por Evo Morales, que renunciou em outubro de 2019. Primeiro como líder dos produtores, ele enfrentou erradicações forçadas financiadas pelos EUA e tentativas frustradas de cultivos alternativos. Já presidente (2006-2019), expulsou a DEA (agência antidrogas norte-americana), delegou o controle dos cultivos aos sindicatos e elevou de 3.200 hectares para 7.700 hectares a área de coca permitida no Chapare, no centro do país.
Assim desmantelou-se a tutela norte-americana, baseada na erradicação agressiva dos plantios da Erythroxylum coca, cultivada nos Andes desde pelo menos 2.000 a.C. Foram mais de duas décadas de programas pouco eficientes de substituição de cultivos e de punições ao narcotráfico, estratégia que predomina nos outros dois países produtores do mundo, Colômbia e Peru.
Do tripé, a Bolívia de Evo manteve a legislação com penas duras, sem legalização de consumo nem da maconha. Mas o discurso oficial passou a ser “coca sim, cocaína não”, com ênfase no uso tradicional presente em vários países sul-americanos, inclusive no Brasil –no noroeste amazônico, a folha é chamada de epadu.
É fato que, além do crescimento populacional, a mastigação tradicional tem ganhado adeptos graças a novidades para melhorar o gosto amargo. A mais popular é a estévia, adoçante natural. Café e chocolate são outras opções.
Mas o consumo tradicional está longe de absorver a produção. Números do próprio governo Evo indicam que mais de 90% da coca do Chapare não passa pelos dois mercados legais da folha, em Cochabamba e na capital, La Paz.

Cocaleiros carregam sacos de folha de coca do lado de fora do mercado de Villa Fatima, na capital La Paz - Lalo de Almeida/Folhapress
Esse desvio é de fácil constatação nas ruas, inclusive no Chapare, onde a coca vendida para a mastigação tradicional costuma ser trazida dos Yungas, região perto de La Paz onde a sagrada planta andina é cultivada há séculos.
A folha de coca é um estimulante de potência média com alto poder nutritivo, fonte de calorias, proteínas, cálcio, ferro, vitamina A e outros nutrientes. Desde antes da invasão europeia faz parte da dieta de povos andinos e amazônicos.
Já a cocaína, extraída da folha, foi isolada pela primeira vez em 1860, na Alemanha. Por décadas, foi usada legalmente na medicina e de forma recreativa, até passar a ser proibida em vários países, na primeira metade do século 20.
A Bolívia é o principal fornecedor de cocaína do Brasil. Estudo de 2012 feito pela Polícia Federal revelou que 54,3% da cocaína que ingressa no país tem origem no Chapare ou nos Yungas. Em segundo lugar, aparece o Peru (38%).
O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de cloridrato de cocaína (pó), depois dos Estados Unidos, e provavelmente o maior consumidor de derivados de cocaína (como o crack), segundo relatório do Departamento de Estado dos EUA.
Importante ponto de embarque para a Europa, o Brasil é o único país fronteiriço às três nações produtoras.
A reportagem procurou a PF em Brasília sobre a entrada da cocaína boliviana, mas não obteve resposta.
Diferentemente dos Yungas, o plantio intensivo da coca é recente no Chapare. O cultivo explodiu a partir do anos 1980 por causa da demanda e da mão-de-obra disponível após a demissão e a migração em massa de mineiros do Altiplano, a maioria do povo quéchua. Atualmente, as federações representam cerca de 50 mil famílias.

Cocaleira na trilha que dá acesso à sua plantação perto de Chimoré, na região do Chapare - Lalo de Almeida/Folhapress
A legalização da coca no Chapare começou sob o governo Carlos Mesa, em 2004, após acordo com Morales. Desde então, uma família pode plantar no máximo um “cato”, correspondente a 1.600 m², ou duas quadras de futsal.
O excedente está sujeito à “racionalização”. O controle de quem tem direito a um cato e de quem excedeu o limite é dos sindicatos e das federações. Cabe ao governo combater o cultivo em áreas não autorizadas, como parques nacionais e regiões fora do Chapare e dos Yungas.
Não faltaram críticas ao que se fazia no Chapare, principalmente dos EUA. Opositores, como o ex-presidente Jorge “Tuto” Quiroga, previam que a coca financiaria um novo narcoestado, como ocorrera no início da década de 1980.
Mas não foi o que ocorreu. Em 2008, quando Evo expulsou a DEA, a Bolívia tinha 25.400 hectares de coca. Onze anos depois, o país registrava superfície praticamente idêntica, 25.500 hectares.
No mesmo período, a Colômbia, que adota uma linha dura e recebe ajuda média de US$ 400 milhões (mais de R$ 2,1 bilhões) por ano dos EUA, viu a área plantada saltar 90%, alcançando 154 mil hectares. É, de longe, o maior produtor de cocaína, seguida de Peru e Bolívia. Os números são da UNODC (Escritório da ONU contra Drogas e Crime).

Plantações de coca nas montanhas da região dos Yungas - Lalo de Almeida/Folhapress
Outra comparação favorável é o nível de violência. Na Bolívia, a taxa de homicídios é de 6 por 100 mil habitantes, uma das mais baixas da América Latina. Na Colômbia, a taxa chega a 25 por 100 mil habitantes, uma das mais altas da região. Já o Peru ocupa posição intermediária.
“Não há cartéis [na Bolívia], como o de Cali ou de Sinaloa. Existem nexos com algumas organizações internacionais para transportar a droga, mas é uma delinquência boliviana, não tão agressiva como em outros países. E há um controle da polícia, das forças especiais”, diz o ex-diretor geral da Força Especial de Luta contra o Narcotráfico, general Luis Caballero, em La Paz, onde hoje é advogado.
Em relatório do Departamento de Estado americano, a Bolívia e a Venezuela aparecem como os únicos países que “comprovadamente falharam” em cumprir obrigações internacionais de combate ao narcotráfico. Ao justificar a classificação, que gera sanções à Bolívia, o documento menciona o aumento da área legal de 12 mil hectares para 22 mil hectares, em 2017.
A ampliação não tem respaldo técnico. Em 2013, levantamento financiado pela União Europeia concluiu que 14.700 hectares são suficientes para o consumo tradicional.
“Claro que se trata de uma legalização ‘de facto’", afirma o economista Roberto Laserna, que estuda a coca há mais de duas décadas. “Sabendo o destino dessa coca, foi permitido que ela seja produzida e comercializada. A ideia do governo era reprimir o narcotraficante e liberar o cocaleiro, mas obviamente há uma conexão direta entre ambos.

Carregador leva sacos de folha de coca no mercado Villa Fatima, em La Paz - Lalo de Almeida/Folhapress
Defensor da regularização da coca e da cocaína, o pesquisador do Ceres (Centro de Estudos da Realidade Econômica e Social), de Cochabamba, ressalva que o controle deveria ser incumbência do Estado. No Chapare, afirma, o resultado foi uma “republiqueta” controlada pelos sindicatos, em que camponeses têm pouco poder de decisão enquanto o narcotráfico cresce.
“A solução ao problema da coca e da cocaína passa por alguma forma de legalização e regularização. E isso começa pelo controle da coca mediante permissões a produtores individuais. Isso é impossível de fazer agora pelo poder dos sindicatos, pela ausência do Estado e pela penetração que tem o narcotráfico nessa zona.”
Com a experiência de quase 30 anos combatendo o tráfico em Cochabamba, o coronel da Polícia Nacional Rolando Raya afirma que, a partir do governo Evo Morales, a produção “se autodisciplinou”, enquanto o cato fez com que o dinheiro fosse compartilhado de forma homogênea.

Polícia prepara queima de drogas apreendidas em montanhas no entorno de Cochabamba - Lalo de Almeida/Folhapress
“Eles pensaram: ‘O que vai acontecer se produzirmos mais? Haverá intervenção. Então faremos uma política bem-sucedida. É legal ter o meu cato’. Ninguém cresceu mais do que tinha de crescer. É um narcotráfico disciplinado”, afirmou, em entrevista na sede do seu comando.
Ex-integrante da FELCN, Raya afirma que, por outro lado, há maior penetração e pulverização do tráfico, que passou de grandes chefes para clãs familiares. “As fábricas [de cocaína] estão em toda a Bolívia”, diz o coronel, que vê um crescente perda de controle territorial. “Se entramos, há morte. Nem o governo Morales conseguia entrar.”

Posto policial depredado e abandonado em Villa Tunari, na região do Chapare, reduto eleitoral do ex-presidente Evo Morales - Lalo de Almeida/Folhapress
Órfão aos 12 anos, Edgar Quispe migrou de Potosí ao Chapare nos anos 1980 para trabalhar nos cultivos de coca. Ele disse que, até o governo Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), o governo agia com violência para erradicar a coca. Já os cultivos alternativos, afirma, não funcionavam.
“Não havia mercado. A única forma de sobreviver no trópico de Cochabamba era a coca”, conta Quispe durante encontro de mulheres cocaleiras em Chimoré, em um ginásio de esportes cercado de barro e apinhado de vendedores ambulantes de comida. Apesar do nome do evento, só homens discursaram no dia em que a reportagem lá esteve, antes da pandemia do coronavírus.

Cocaleiros participam de congresso em um ginásio em Chimoré, na região do Chapare - Lalo de Almeida/Folhapress
No passado, Quispe teve seu plantio erradicado à força. Sem alternativa, em 1992 migrou para a Argentina, onde ficou até 2001. Como resultado da repressão, explica Quispe, os cocaleiros começaram a formar o partido Movimento ao Socialismo, que passou a controlar as prefeituras do Chapare e, na eleição de 2005, levaria Evo ao poder. Com o ex-cocaleiro no poder, a dinâmica mudou. “Se há coca excedente, isso tem de ser anunciado, e a pessoa tem de permitir a entrada em seu sítio.”
Hoje com 49 anos, ele cultiva coca legalmente. Com o dinheiro poupado na Argentina, comprou 25 hectares. A sua principal atividade é a criação de gado –tem 20 cabeças.
Assim como outros cocaleiros, Quispe passou a viver em Chimoré, a 10 km de seu cato, cidade de comércio informal, casas simples e ruas de pavimentação mal conservada.
A renda da coca é razoável. Na federação, o saco da folha (23 kg) é comercializado por 1.200 bolivianos (R$ 730). Cada cato produz, em média, três sacos a cada três meses.


Acima, sacos de folhas e abaixo, as folhas de coca no mercado de Chimoré, na região do Chapare - Lalo de Almeida/Folhapress
A área dos plantios, antes acessível apenas após longas caminhadas, hoje está conectada por estradas de terra. Na região visitada pela Folha, o cocal ficava a cerca de 5 minutos a pé de uma via. Os cocaleiros trabalham ali durante o dia e à noite voltam à cidade.
Para complementar a renda, os camponeses também trabalham para outros camponeses. Todo o plantio da coca é manual –o machado e o facão são usados para abrir a roça na floresta. Uma diária sai por 120 bolivianos (R$ 73).
Ecoando o discurso de Evo, ninguém admite que a coca do Chapare vai principalmente para o narcotráfico. “Comercializamos nos nossos centros de armazenagem, despachamos à comercialização em nível departamental, em Cochabamba, e depois para o país. A coca é distribuída para o pijcheo [mastigação]”, afirma Leonardo Loza, um dos principais dirigentes do Chapare e filiado ao MAS.

Leonardo Loza, lider cocaleiro, caminha por sua plantação de coca na zona rural de Chimoré - Lalo de Almeida/Folhapress
A reportagem também visitou a região dos Yungas. Embora fique apenas a algumas dezenas de quilômetros de La Paz, a viagem é demorada devido às estradas precárias esculpidas nas serras que fazem a transição dos Andes para a Amazônia.
Assim como no Chapare, não há sinais de riqueza ou de desigualdade. As casas, construídas sobre encostas íngremes, são simples, e os carros, velhos -a maioria circula sem placas, contrabandeados do Chile.
Porém, ao contrário do Chapare, os principais líderes cocaleiros dos Yungas deixaram de apoiar Evo. Sempre latentes, as divergências se escancaram após a lei de 2017, que ampliou a área dos cultivos. A medida, afirmam os líderes, favoreceu o Chapare e legalizou produção que vai ao narcotráfico.


Acima, cocaleira descansa no mercado Villa Fatima, em La Paz; abaixo, Pedro Antonio, filho de Elton Morán, descansa na sombra enquanto o pai trabalha na plantação - Lalo de Almeida/Folhapress
Em meio ao rompimento com Evo, vários dirigentes acabaram presos, incluindo seu principal líder, Franklin Gutiérrez. Na recente crise política, ele apoiou os protestos que provocaram a queda do ex-presidente e depois se aproximou do governo interino. O país é governado pela direitista Jeanine Áñez. Por causa da pandemia, a nova eleição presidencial foi adiada de maio para setembro, depois para outubro.
Entre os cocaleiros yunguenhos, no entanto, o ex-presidente guarda popularidade. É o caso de Elton Morán, 30. Morador do povoado de Huancané, ele aprendeu o ofício do pai e do avô.
“A coca é a atividade que mais nos dá sustento”, diz o agricultor no meio do seu cocal. Ele começou a ajudar o pai com 12 anos e hoje divide a tarefa com a mulher, com quem tem dois filhos.
“Evo Morales entrou quando eu estava no colégio. Meus pais se sentiam muito orgulhosos de que um camponês chegasse ao governo”, diz Morán, que aponta a substituição das paredes das casas do barro para o tijolo como uma das mudanças favoráveis do seu governo. “Muitos consideram que a sua entrada foi muito boa, e outros o rechaçam. Pessoalmente, vejo que foi bom. Daqui a cinco anos, já vamos saber quão bom foi Evo e também os que tanto o julgavam.”

Mural com o rosto do ex-presidente Evo Morales em estrada no Chapare - Lalo de Almeida/Folhapress